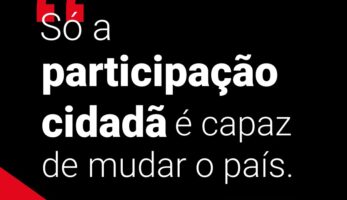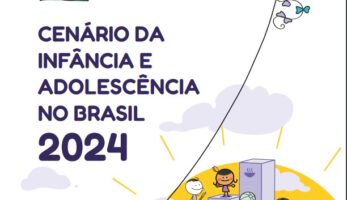Publicação original da Revista Periferias
Autoria: Fernando Fernandes, Jailson de Souza e Silva e Jorge Barbosa
Instituto Maria e João Aleixo | UNIperiferias
Nos tempos presentes, o ódio e a indiferença social predominam no debate público, na retórica política e nas narrativas midiáticas na sociedade — inclusive ganhando sua sustentação no desrespeito provocado por discursos étnicos, morais e religiosos frente ao outro. Nessa cena social regressiva, materializa-se um paradigma que ameaça a democracia e o reconhecimento da diferença.
Aliado a esse processo, o sectarismo, em suas diversas formas, sobressai em várias agendas ideológicas — compreendidas tanto no espectro do extremo da esquerda ao da direita — intensificando tensões políticas e simbólicas.
Os discursos e práticas acima identificados estruturam o quadro atual que produz, reforça e dissemina discursos que legitimam a desumanização de grupos sociais inteiros, assim como intensificam o descarte de pessoas marcadas como diferentes ou antagônicas.
Para esse plano discursivo que vai se difundindo de forma assustadora e devastadora em sua sociabilidade — favelas, periferias, cortiços, ocupações e tipos assemelhados de moradia — compartilham representações simbólicas estereotipadas no cenário urbano. Deles, a representação social é tipicamente associada a rotulações negativas e preconceituosas. Ao fim, reforçam características físicas e sociais inferiores aos padrões normativos definidos pelos regimes estéticos hegemônicos e pelos modelos conservadores de habitabilidade de urbana.
Ao seguirmos as contribuições de Pierre Bourdieu, e ao considerarmos o espaço urbano como campo onde o capital simbólico da territorialidade e de seus habitantes agregam status econômico e social, podemos registrar como o acúmulo de capital simbólico na cidade é central para o acúmulo de capital econômico e social.
Portanto, argumentamos, em nossa primeira edição de Periferias, que a melhoria dos meios e condições de existência de territórios populares em muito dependem de mudanças nas marcações simbólicas que as atravessam profundamente.
São mudanças que, entretanto, não se concretizam com a incorporação de concepções de estética e de habitabilidade dominantes, mas sim com o reconhecimento do poder inventivo — resultado das estratégias e afirmações de interação do no espaço urbano — que a população residente em territórios marcados pela desigualdade possui.
Narrativas de origem do Paradigma da Ausência
É aceito quase como consenso o fato de que ocupações urbanas com limitado acesso à infraestrutura e serviços públicos, e com baixo perfil de status social (muito em detrimento dos baixos níveis educacionais, alto índice de desemprego, precariedade no trabalho, prevalência de indicadores precários relacionados à saúde, e assim sucessivamente), sejam basicamente classificadas como territórios “desprovidos”, “desfavorecidos”, “desprivilegiados”, “pauperizados” ou “carentes”.
Essas adjetivações contribuem para a conformação de uma doxa urbana, na qual a depreciação simbólica, a partir dos discursos elaborados e disseminados pela mídia de massa, torna-se senso comum; o mesmo processo ocorre com narrativas distorcidas (conversas informais, piadas) – fazendo com que políticas públicas reproduzam conformações à referida narrativa.
Considerar que territórios populares não satisfazem padrões de vida pretendidos é determinante para sustentar reivindicações por investimento estatal, capazes de garantir melhores padrões de vida e legalmente viabilizar seu uso social pleno; e isso se localiza no núcleo para a reformulação de políticas habitacionais e urbanas: as reivindicações legitimam-se pela produção do conhecimento, opinião pública e obtenção de dados oficiais, com os quais conjuntamente se demonstre a escassez de recursos e meios para se obter condições dignas de vida.
Reconhecer tais características de desigualdade é ato fundamental para se alcançar padrões dignos de vida. No entanto, é também matéria de preocupação, quando a ênfase recai única e exclusivamente na ausência ou no que os territórios não são, pois assim fatores relevantes são omitidos, tipicamente ignorados ou mitigados.
O Paradigma da ausência não reconhece estratégias resultantes de formas autênticas de “resiliência”, tampouco admite formas e estilos de vida deslegitimados por referências sociais, culturais, políticas e estéticas hegemônicas. São, fundamentalmente, habitus sociais desenvolvidos sob as condições específicas de vida, simbolicamente depreciadas como parte integrante do processo de distinção corpóreo-territorial — recorrentes no espaço urbano.
O processo simbólico-depreciativo é parte de uma dinâmica ainda mais ampla que envolve a produção de narrativas que buscam adesão popular e também justificar ações do Estado, as quais em detrimento de outros, beneficiarão setores específicos da sociedade.
Tais práticas são conduzidas por elites econômicas e políticas; fazem uso da violência simbólica para manter o status quo. Executadas sob “práticas democráticas” questionáveis, intervenções urbanas são apresentadas como benéficas para uma parcela mais ampla da sociedade, a qual usufrui dos produtos da acumulação de capital da elite.
As “pedagogias da monstrualização”
As “pedagogias da monstrualização” operaram mecanismos ampliados da inculcação, os quais também conformam o habitus social ao espaço urbano: aprendemos a odiar, a ser indiferente e a ignorar o Outro, sustentando atitudes estigmatizantes e depreciativas ao incorporar a narrativa da aversão social1, do descarte2, e da negação3; reunidos, configuram processos de não-civilização (Rodger, 2013) dos grupos tratados como marginalizados.
Essas “pedagogias da monstrualização” estão no âmago dos processos de negação do outro, do diferente, os quais geram e reproduzem tensões sociais, cujo impacto é profundamente perverso para a convivência na cidade; aniquilam qualquer traço de humanidade ao fazer uso de narrativas difusas e dispersas que gradualmente produzem verdade ou “regimes de verdade”4; não apenas engendram mentalidades e formas de compreensão nesse caso, relacionado ao Outro), mas também justapõem um sistema de valores hierárquicos no qual dois processos, em paralelo, ocorrem.
O primeiro é o da “profecia autorrealizável”: comportamentos previsíveis, usados como rótulos estigmatizantes, reforçam as características e situações em que a aversão social, a desaprovação e o ódio, moldam-se. Em palavras mais simples e diretas: ao basearem-se em comportamentos previsíveis, sistemas são instituídos para que as pessoas falhem.
Já o segundo — o processo da aniquilação simbólica — pode ser tão forte a ponto que qualquer tentativa de produzir contra narrativas enfrentará resistências baseadas em “filtros” determinados por representações sociais inculcadas — o que pode ainda tentar naturalizar como inferior qualquer argumento contrário às explicações dominantes.
Em outras palavras: a voz de grupos estigmatizados é limitada aos apoiadores comuns e enfrentará forte resistência para sensibilizar aqueles que, em si, já carregam alguma forma de pré-julgamento.
Em síntese, estratégias de distinção social e racial operam para reforçar hierarquias de humanidade e opressão pelo uso da violência simbólica, baseada em processos pedagógicos que naturalizam a indiferença, a aversão social e o ódio — elementos constitutivos das contradições sociais reproduzidas no espaço urbano. A humilhação pública e a desumanização de grupos específicos resultam de tais pedagogias.
Estigma territorial e narrativas de origem da representação da Favela
A dinâmica espacial da concentração e da estigmatização é considerada, inclusive pelo sociólogo Loïc Wacquant (1999; 2008), como um dos componentes estruturais da “marginalidade avançada”. Por estigmatização territorial, Wacquant considera a tendência de “conglomerar e coalescer em torno de áreas “complexas” e “cerceadas”, as quais os próprios residentes as identificam, não menos do que aqueles de fora, como “buracos urbanos de inferno” abundantes em ausência, imoralidade e violência; onde apenas excluídos pela sociedade considerariam viver” (Wacquant, 1999: 1643-44). Ele também é enfático sobre a diminuição da sensação de comunidade frente à esfera do consumo privatizado e às estratégias de distanciamento (“eu não sou um deles”); tais estratégias de distanciamento enfraquecem solidariedades locais e confirmam percepções depreciativas do território.
Concordamos que a estigmatização ofusca “diferenças estruturais e funcionais subjacentes à distribuição espacial desigual de pobreza e desvantagem, assim como desvincula questões de culpabilidade do Estado e dos setores privados”.5
Ato contínuo, igualmente concordamos que representações sociais sustentadas pela estigmatização exercem papel expressivo para favorecer políticas e práticas orientadas para a manutenção do controle das estruturas de poder e da tomada de decisão6, as quais, em conformidade com a agenda neoliberal, têm sido agredidas por interesses mercadológicos — retirando do Estado e da sociedade civil os meios para atingir deliberações socialmente justas.7
A depreciação simbólica de grupos socialmente desiguais reforça o desequilíbrio do poder e a fraqueza da democracia na cidade e, como consequência, do direito à cidade.
No Brasil, e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, as representações sociais das favelas e de outros territórios populares foram fundamentais para mantê-los destituídos de representatividade nos direcionamentos do desenvolvimento urbano e nas políticas públicas abrangentes. A desmoralização dos moradores de favela, tratados como “cidadãos de segunda classe” (ou “não-cidadãos), conjuntamente com outros rótulos negativos, foram historicamente utilizados para reter, no território das favelas, os moradores em condições de desigualdade.
O ato de circunscrever favelas como entidades isoladas da produção do espaço urbano, também tem sido ideologicamente utilizado para expô-las não como pertencentes à cidade, mas sim como áreas problemáticas cuja única solução viável seria eliminá-las fisicamente — tal como o ideia de “câncer urbano”.8 Embora ultimamente a ideia de eliminação (“remoção”) surpreendentemente ainda ecoe, mais ênfase tem se dado à necessidade de simbolicamente (mas onde possível, fisicamente) eliminar aquele que é seu produto social: o(a) favelado(a).
O reconhecimento (legal ou por políticas públicas) de que a favela é parte integrante da vida urbana – não pôde completamente evitar que o velho discurso da “remoção” perdurasse. Desencadeou, pelo contrário, novos processos sociais cujo ataque simbólico ao território e seu povo, agravou-se. A criminalização dos moradores de favelas — e a patológica referência ao comportamento criminal — funcionam como núcleo para o ataque simbólico, portanto não é sem motivo que, a emergência de grupos civis armados em favelas e a resposta militarizada do Estado, têm sido objeto de debates mais abrangentes no campo da segurança urbana associado aos direitos humanos9.
Por outro lado, a criação de movimentos que tratam moradia, educação e cultura como direitos, tem criado novas tensões que contestam rotulações estigmatizantes ao reafirmar a importância de grupos, coletivos e sujeitos sociais para as disputas políticas e simbólicas na cidade.
Os processos descritos por Wacquant10 são principalmente analisados em países desenvolvidos — especialmente França e Estados Unidos, e nos respectivos territórios formados pelo estado (guetos norte-americanos e a banlieu francesa – descritas como “criaturas das políticas do estado”.11
Entretanto, percebemos limites nessa estrutura conceitual. São claras as diferenças históricas, conjunturais e qual modelo o neoliberalismo tomou em cada localidade. Conceitos como o de “estigma social” e de “objetificação” e “homogeneização” do território e de seus moradores(as) desconsideram o poder inventivo dos sujeitos coletivos oriundos de espaços marcados pela desigualdade.
É ainda necessário abordar criticamente as verberações de “estigma territorial”, relevante referência frente aos processos ideológicos, os quais ao rotularem bairros, contribuem para mais amplamente discriminá-los. Quando descontextualizados e tomados de forma objetiva, tais conceitos não consideram alguns processos sociais a partir dos quais grupos estigmatizados, como as favelas, formaram-se.
De fato, favelas e periferias são, essencialmente, espaços de múltiplas existências, por isso carregam uma forte e positiva imagem a partir da visão dos movimentos sociais e de seus próprios moradores e moradoras.
A questão é que quando há ênfase na “ausência” e “imoralidade” em tais territórios, ignora-se as forças que tomam forma, não apenas como novas configurações de ativismo social, mas também e ainda mais importante, nas práticas daqueles simbolicamente destituídos de representatividade social, cultural e política.
Se o status simbólico das favelas e de outros territórios marcados pela desigualdade compartilham uma representação social sustentada por ideias de “privação” e “carência”12, sua narrativa de origem orientara outras representações que acompanharam a ideia de ausência em um sentido mais abrangente. São exemplos, as tantas intervenções políticas e projetos de caridade que consideram assumir a “cidadania” de territórios onde não existe cidadania (ou há uma cidadania de “segunda classe”). Outro exemplo, é a quando consideram a falta de adequação quando comparados a bairros considerados “normais”. (Silva e Barbosa, 2005; Silva et al. 2009).
Para tanto, suas representações poderiam ser retratadas como “anormais”, como ainda os conceitua o censo do IBGE (2010). A “anormalidade” é assim contestada, pois foca em um padrão normativo, questionável a partir das perspectivas de classe; em segundo, por ignorar características, em função de determinadas políticas norteadas por valores de classe, da força positiva dos territórios, não obstante sua evidente existência.13
Às situações referidas, soma-se uma camada de complexidade quando tomam forma a violência urbana e seus efeitos colaterais associados: o preconceito, a discriminação, a estigmatização e a indiferença — originados e radicalmente agravados com as relações racializadas de poder.
Isso explica porque é preferível se referir a esses territórios (e aos sujeitos) como dissonantes ao padrão dominante. Eles sofreram um processo histórico de aniquilação simbólica que os destitui da produção do urbano ou da cidade ao considera-los entidades isoladas, tal como a representação do “câncer urbano”, como se reproduziu no início do século XX. Não se limitando a isso, a falta do reconhecimento das forças positivas das favelas e periferias tem historicamente mitigado a possibilidade de considerar um projeto de urbanização que trate a favela e a periferia como possível ponto de partida, em vez de ponto de chegada para intervenções “arbitrárias” (ou supostamente democráticas), as quais ignoram a potência desse território.
O processo histórico da aniquilação simbólica das favelas pode, portanto, ser considerada uma forma violenta de “esquecimento organizado”14, no qual o status de cidadão do morador de favela é abreviado em face à “ignorância”, ao “analfabetismo” e outras generalizações usadas como forças simbólicas para manipular, explorar e silenciar.
O Paradigma da Potência
Como contrapartida às simplórias classificações de territórios “desprovidos”, “desfavorecidos”, “desprivilegiados”, “pauperizados”, “marginalizados”, “excluídos” ou “carentes”, opõe-se ao paradigma da ausência, “o poder inventivo” das Periferias — traduzido por Potência, ou pela capacidade de gerar respostas práticas e legítimas, as quais se configuram como formas contra hegemônicas de vida em sociedade.
Trata-se do reconhecimento do poder inventivo dos grupos marcados pela desigualdade social e estigmatizados pela violência — e ainda mais ampliado, das periferias urbanas — que precisa ser tomado como referência para a construção do “Paradigma da Potência”, a partir do qual o estilo de vida (em vez das condições de vida) é reconhecido pelos termos que lhes são próprios (e não comparado aos padrões hegemônicos presentes na cidade).
Em outras palavras, os territórios populares e seus sujeitos devem ser valorizados pelas inventividades que contribuem para a vida urbana plena, não sendo depreciados como expressões da ausência e da privação, entre outras representações negativas, as quais operam como forças simbólicas na esfera pública para desvalorizar existências, reputações e demandas de direitos para esses territórios.
Como primeiro passo para sustentar o paradigma da potência proposto, entendemos como fundamental — desenvolver formas permanentes de convivência que nos permitam aprender a compartilhar a cidade. Desse modo, colocamos em desafio os processos de não reconhecimento do outro, com os quais são fabricados monstros urbanos; ao passo e mesmo tempo, com o devido respaldo reconhecemos o conjunto de práticas, estéticas e estratégias provenientes da Periferia como sendo forma de resposta, autêntica, e indiscutivelmente legítima, às desigualdades urbanas.
São respostas contra hegemônicas de vida que, entretanto, são ignoradas ou limitada compreensão é dada quando se propõe conceitualmente discutir o que os territórios (e seus habitantes) são ou não são — diante do que é posto como normal, legal e formal na vigente produção do espaço urbano contemporâneo.
Não apenas consideramos a necessidade de afirmar vozes e favorecer as esferas de participação para que, na cidade, a democracia se expanda — como também consideramos a necessidade de incorporar as dimensões simbólicas continuadamente ignoradas por parâmetros hegemônicos, os quais definem políticas, práticas e o exercício de direitos à cidade.
Assim, o Paradigma da Potência ilustra o poder inventivo das Periferias: manifesta-se em estratégias inovadoras de existência e soluções criativas na resolução de conflitos, assim como na produção cultural, no acúmulo de repertórios estéticos e em modos de trabalho centrados em convivências plurais.
Por uma “Pedagogia da Convivência” na Cidade
Os limites para a convivência na cidade são diversos e complexos, e seria necessário tempo para que mudanças estruturais estabelecessem um novo habitus social e códigos de vivência. Tensões podem não chegar a um fim, mas podem ser lidadas a partir de outro nível de sociabilidade.
O desafio é, portanto, promover a cultura da convivência, com a qual diferenças e conflitos são reconhecidos como dimensões fundamentais da interação humana. Podemos preconizar o desenvolvimento de uma cultura, em termos de uma pedagogia da convivência, capaz de criar o modo pelo qual interagimos, promovemos mudanças e, acima de tudo, exercemos a experiência de viver a cidade.
A pedagogia proposta deve consistir de um aprendizado de vida, inserido na experiência urbana. Viver a cidade em todas suas dimensões deve ser pressuposto.
A “pedagogia da convivência” se alinha com a “pedagogia crítica”, como proposto por Giroux (2012), a qual se refere às práticas educacionais que criam condições para produzir cidadãos críticos, auto reflexivos, conscientes e dispostos a agir de forma socialmente responsável — postura central para a sobrevivência da democracia.
Avançando na mesma direção, uma “pedagogia da convivência” deve abranger práticas existenciais e de vida na cidade, as quais criem condições para produzir cidadãos dispostos a viver e experienciar a vida na cidade sob os princípios da solidariedade, fraternidade e respeito às diferenças.
Cidadãos que estejam plenamente dispostos a viver de forma solidária com o outro são capazes de se engajar em um virtuoso processo de humanidade e amor, o que contrasta com a “pedagogia da monstrualização”, a qual se preocupa com a formação de opiniões, valores e sentimentos cujo objetivo é devastar, eliminar e ordenar as diferenças, ao invés de abraça-las.
Fundamentalmente, é necessário conceber a cidade como espaço central para exercer uma experiência de aprendizado de vida rumo à convivência.
Esse Com-viver só é possível a partir do reconhecimento da Potência, do poder inventivo das favelas e das periferias urbanas — o que implica (re)considerar a estética e o habitus social produzidos por esses territórios, posto que têm servido de base para narrativas produzidas e reproduzidas pela “pedagogia da monstrualização”.
Como anteriormente discutido, a rejeição estética e das formas de socialização das favelas e periferias têm sido utilizadas para excluir tais territórios e seus habitantes da participação do debate urbano e político. Entretanto e como contrapartida, os parâmetros e referências que moldam o projeto de urbanidade devem incluir o poder inventivo das favelas e das periferias.
As experiências singulares de moradia, vivência social, criação cultural e agenciamento político devem ser — por si reconhecidas — e não contrastadas com referências normativas, sócio-políticas e simbólicas, as quais integram um projeto não-democrático de cidade e de “monstros” (o funk como não-cultura; a favela como subnormal; negros como inferiores; jovens de periferia como criminosos; imigrantes como ameaça).
Assim como se torna capaz de odiar, a humanidade é capaz de amar — as fronteiras entre esses dois atos são predominantemente sustentadas por ideias, palavras e sentimentos socialmente construídos. Portanto, uma “pedagogia da convivência” é possível — sua missão é criar sinergias na cidade e contestar qualquer forma de violência contra a humanidade. Isso não significa ignorar as desigualdades, conflitos e contradições na cidade; tampouco significa ignorar a opressão. É preciso colocar em discussão a necessidade de considerar, com mais rigor, os processos de espoliação sócio-simbólica como força atuante na produção do espaço urbano e na moldagem da experiência urbana.
Quais são, como proposta de construção e ação, as referências e experiências que devem direcionar a produção da cidade? Como tais referências podem ser incorporadas a um processo democrático que reconheça a Potência das favelas e das periferias urbanas? Como esses territórios podem ser protagonistas na produção da cidade ao invés de serem apenas destinatários de referências sócio-políticas e normativas, assim como representações reprodutoras de estereótipos e estigmas?
Por fim, e não menos importante, como as ideias propostas aqui encontram pontos comuns e divergentes em relação às questões que afetam as Periferias urbanas, Brasil e mundo afora?
Sintam-se todas e todos convidadas e convidados para esse aberto debate!
Array